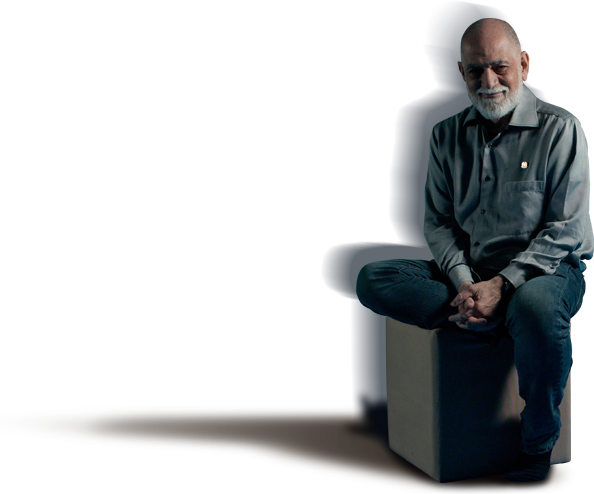Talvez isso seja a explicação de tudo. Quando criança, minha mãe superprotegeu seu primeiro rebento. Eu era filho único, fragilizado pela redoma de proteção: não podia andar descalço, sem camisa, nem tomar sorvete, muito menos ir à praia ou brincar com outros meninos. Nunca soltei pipa, nunca brinquei de bola de gude, nem joguei futebol, nem qualquer outra brincadeira de moleque. Embora tivesse uma vida familiar feliz e plena de carinho, esse isolamento das demais crianças me induzia a uma vida reclusa. Com isso, eu passava horas e mais horas, durante anos, trancado no meu quarto de menino, desenhando, ouvindo música, lendo, escrevendo e explorando o meu mundo interior, já que o exterior me era inacessível. Era um quase-autista.
Hoje, sabe-se que alguns autistas estabelecem conexões, ainda não muito bem compreendidas, com alguma dimensão do conhecimento humano. Isso gerou o conceito do autista savant. Em francês, savant significa sábio. É uma deficiência mental, mas que, de alguma maneira, permite ao autista acessar conhecimentos que as pessoas normais não conseguem.
Em 25 anos de viagens à Índia, estudei com vários Preceptores hindus como o Dr. Yôgêndra (em Mumbai), Dr. Gharote (em Lonavala), Swámis Krishnánanda, Nádabrahmánanda, Turyánanda (em Rishi- kêsh), Muktánanda (em Ganêshpurí) e outros, considerados os últimos grandes mestres daquele país. Krishnánanda, por exemplo, orientou- me por mais de vinte anos. Foi um excelente Mestre. Soube não deixar que a sua linhagem Vêdánta-Brahmacharya interferisse com a a minha. Chegou a me conseguir um professor de Sámkhya que me dava aulas dessa filosofia dentro do Sivánanda Ashram.
Mas a nenhum deles posso reconhecer como o Meu Mestre. Isso confundiu um pouco os cri-críticos de plantão e induziu-os ao erro de supor que eu fosse um autodidata, o que não é fato. Embora alguns professores tenham sempre declarado com indisfarçável orgulho que eram autodidatas, esse não é o meu caso. Considero que nesta área, o autodidatismo não é nada louvável. É apenas uma questão de ego. Como dizia Mário Quintana, “autodidata é um ignorante por conta própria”.
No entanto, antes de ter estudado com aqueles renomados mentores, quando bem jovem, andei à procura de alguém para ser meu Mestre físico, de carne-e-osso. Ninguém aceitou, uns por honestidade ao avaliar sua própria limitação, outros disfarçando isso com falsa modéstia. O fato é que professor algum julgou-se apto a levar-me adiante do ponto onde eu já estava.
Muito antes de descobrir o verdadeiro Preceptor gastei muita sola e muito latim (e sânscrito!) na procura. Finalmente desisti de encontrá-lo entre meus conterrâneos e comecei a buscá-lo nos indianos que vinham dar conferências no nosso país. Mas decepcionava-me seguidamente, pois eles não pareciam ter mais conhecimento do que os compatriotas. Em suas palestras não acrescentavam nada e por vezes deixavam muito a dever aos nossos. Só iludiam mais a opinião pública por apresentarem-se com trajes exóticos e dirigirem-se ao público em inglês. Até que, certo dia, um deles pareceu possuir realmente algum grau mais avançado e pôs termo a essa fatigante peregrinação. Foi o Swámi Bhaskaránanda, que esteve no Brasil em 1962. Aos dezoito anos de idade, tive a oportunidade de estar com ele e expor minha expectativa. Ele esclareceu:
– Seu Mestre ainda não sou eu, nem é nenhum dos da sua terra. Ele é maior do que todos nós juntos e tem muito mais a lhe transmitir do que o mero conhecimento intelectual. Não se preocupe em achá-lo. Ele é que vai achar você, mas só no momento certo, quando estiver mais amadurecido e puder entender.
A partir daí, fiquei tranquilo e parei de buscar. Ao invés disso, passei a investir todo o meu tempo no aprimoramento necessário para me colocar à altura de um tão grandioso Preceptor. Forçosamente tive que ler pencas de livros, fazer muitos cursos e conhecer inúmeros mentores. Nesse crisol alquímico, vinham coisas boas, coisas ruins e muitas fraudes.
Quando adolescente, a fim de não ser perturbado pelos amigos e familiares, pedi aos meus pais para estudar no colégio interno. Todos estranharam muito, pois isso constituía o terror de todo adolescente. Realmente, eu havia sido o único a ingressar no internato do Colégio Batista a pedido próprio. Começaram a pensar que “aquele menino” devia ser muito infeliz em casa. Precisei deixar bem claro que tinha uma ótima família, era feliz e bem ajustado. Só queria tranquilidade para pesquisar a minha opção cultural.
De fato, a partir daí, passei a estudar essa filosofia sete horas por dia e praticar outras sete. Em todos os períodos de estudo escolar trocava de livro e lia sobre o darshana hindu. Alguns professores notavam, mas preferiam fazer vista grossa e fingir que não percebiam, afinal, pelo menos esse aluno não estava perturbando a aula, o que já era um grande consolo para eles! Quanto aos que implicavam e proibiam minhas leituras, eu faltava sistematicamente às suas classes e ia para a floresta do colégio, ler e praticar.
Aliás, o Yôga é mesmo incrível, pois, apesar disso tudo, obtive sempre ótimas notas e os colegas ainda tentavam me pedir ajuda nas provas. Atribuo a performance no aproveitamento intelectual aos exercícios de concentração e aos respiratórios que hiperventilavam, bombeando mais sangue oxigenado ao cérebro. Fora das aulas, em todos os períodos livres, aproveitava para treinar. Se não fosse possível fazer técnicas corporais, praticava respiratórios, meditação, mentalização, mantras, relaxamento, o que desse para exercitar.
Na verdade, não sei se o incremento proporcionado no rendimento intelectual foi positivo, pois passei a assimilar a matéria escolar com tanta facilidade que as aulas tornaram-se assaz enfadonhas e ficara difícil frequentá-las. Ao ouvir o blá-blá-blá dos professores, desdobrando-se para se fazerem compreender pelos demais alunos, e estes, apáticos, distraídos, sem a mínima concentração, sem saber nem mesmo o que estavam fazendo ali…, revoltava-me todo aquele primarismo, aquela abordagem maçante de assuntos tão simples. Dava-me ganas de protestar e retirar-me da classe. Não suportava ficar ali perdendo tempo, quando havia tantas coisas mais importantes para aprender, toda uma Natureza, todo um Universo a desvendar! Devíamos criar escolas especiais para jovens praticantes de Yôga, que têm um ritmo de aprendizado mais acelerado.
Vamos apoiar os nossos conterrâneos. Nada de inveja porque o outro conquistou algo que nós ainda não alcançamos.
Certa vez, um jornalista me questionou, indignado, por termos centenas de escolas em vários países. Quando a matéria foi publicada, ele nos criticava por isso. Acontece que a mesma matéria louvava uma organização estrangeira do mesmo ramo cultural em que atuamos e declarava que eles contavam com “centenas de centros” nos Estados Unidos. Então, qual é o problema? Por que dois pesos e duas medi- das? Sendo estrangeiro, ter muitas escolas é sinal de competência e relevância, mas sendo brasileiro não pode? Parece-nos que o problema é ser brasileiro.
Na verdade, a Uni-Yôga começou a surgir quando organizei aquela União aos dez anos de idade. Era uma tendência minha unir, catalisar, polarizar as pessoas em torno de algum ideal útil e tentar conciliar entre si as que seguissem filosofias diferentes. Mas, ao mesmo tempo, hoje posso afirmar: como é difícil conciliar as pessoas! Especialmente quando elas são adeptas de correntes que se pretendem altruístas e desapegadas…
Façamos um rápido retrospecto para obter a amarração daquele somatório de fatores que foi eclodir com a fundação da União Nacional de Yôga.
Comecei a lecionar aos dezesseis anos (1960), abri o primeiro Núcleo aos vinte (1964) e registrei-o em 1966 com o nome de Instituto Brasileiro de Yôga. Em 1967 foi inaugurada a primeira filial, no Rio de Janeiro. Nela, em 1969, lançamos a primeira edição do nosso primeiro livro. Isso tornou o nosso nome conhecido em outros Estados e permitiu que, em 1973, no congresso internacional, as pessoas já o conhecessem por terem lido o Prontuário de SwáSthya Yôga e nos convidassem a ir dar cursos em suas cidades.
Em 1974 viajei pelo país todo e percebi que a maior parte dos professores era constituída por gente muito boa e que estava ansiosa por acabar com a vergonhosa desunião reinante. Estavam todos querendo que surgisse uma instituição que os congregasse. Mas relutávamos em dar esse passo.
Em 1975, fui à Índia pela primeira vez. Quando voltei, senti muito mais força, como se estivesse agora investido do poder milenar dos Himálayas. Com essa energia fundamos a União Nacional de Yôga. Foi o estopim que desencadeou uma grande corrente de opinião favorável. Isso coincidiu com a cessação dos exames pela Secretaria de Educação do Estado da Guanabara, o que, forçosamente, levantou o outro braço da balança, projetando-nos como preparadores dos futuros instrutores. Estava sendo lançada a sementinha da Primeira Universidade de Yôga do Brasil, que surgiria duas décadas depois, em 1994.
Nossas viagens pelo Brasil continuavam a todo o vapor, fazendo engrossar as fileiras da União num ritmo que derrubava fragorosamente qualquer tentativa de oposição. Curioso é que a oposição não veio de fora, mas do próprio métier. Tivemos apoio irrestrito das Universidades Federais, Estaduais e Católicas, da Imprensa, da Igreja, do Governo… só alguns ensinantes de yóga é que viam o nosso trabalho com desconfiança ou com inveja e tentavam atrapalhar.
Os historiadores sabem-no bem: não é à toa que história e estória (History & story) têm a mesma origem semântica. Em inglês é muito significativo que a palavra History pareça composta de his+story (sua estória, sua versão).
No fundo, é tudo mitologia. Se lhe perguntarem: “qual é a cor do cavalo branco de Napoleão?”, não responda que era cinzento e que branco era seu nome. Na verdade ele era branco mesmo e o nome era Le Vizir. Se ouvir que Ivan, o Terrível era terrível, duvide. Alexandre, o Grande, era pequeno. Rasputin era muito mais santo que demônio. E, afinal, os peles-vermelhas não eram uns selvagens desalmados como se quis fazer crer durante séculos.
A História sempre foi torcida por quem a escreveu. Qual terá sido a verdadeira história da revolução russa ou da revolução francesa? Comunistas comiam criancinhas? Os químicos da idade média eram mesmo bruxos emissários do diabo? Joana d’Arc era o que diziam os ingleses (uma bruxa francesa), o que diziam os franceses (uma santa) ou ainda o que diria Freud (uma portadora de psicose obsessiva com alucinações)? Não faria diferença: ela seria queimada de qualquer maneira.
Na mesma fogueira são torrados o nome, a reputação e a paz de espírito de todos aqueles que ousam ser mais lúcidos que a massa ignara, ou simplesmente diferentes. O próprio Freud foi impiedosamente perseguido e difamado enquanto vivo. Depois de morto, tornou-se venerado como gênio. Anos depois, outra vez, atacado e injuriado. Pelo jeito esse processo cíclico vai continuar se repetindo.
Galileu foi preso por dizer a verdade, libertado por admitir a mentira. Giordano Bruno, Miguel Servet e outros tantos, não se calaram: foram torturados e queimados vivos em praça pública. O psicanalista Wilhelm Reich saiu da Alemanha nazista e foi para o país da liberdade: lá foi preso por suas ideias libertárias e morreu na prisão.
Quantos passaram à História como loucos e eram iluminados; quantos passaram como iluminados e eram loucos!
A esta altura já acho que honesto é o adjetivo que se aplica a todo aquele que não foi desmascarado. E, em contrapartida, desonesto é o que não conseguiu provar sua inocência, ainda que verdadeira. Ah! Quanta gente honesta você conhece, não é?
Curioso é que embora a lei diga que todos são inocentes até que se prove o contrário, o povo faz o inverso. Em vez de exigir as provas ao que acusa, exige-as ao acusado! Então, para o populacho ele passa a ser culpado até que se prove a sua inocência.
Pensando bem, na Justiça também é assim. Se você for acusado falsamente terá de provar que a acusação é falsa, senão vai preso! Então… e aquela estória de que “ao acusador cabe o ônus da prova”?
Hoje, quando estoura algum escândalo envolvendo personalidades públicas em seus supostos envolvimentos amorosos “provados”, corrupções “documentadas” e outras pilantragens “testemunhadas” penso cá comigo o quão possível é que tenham apenas sido vítimas de complôs para desmoralizá-los e, assim, afastar concorrentes realmente fortes por ser incorruptivelmente honestos.
Mas o que esperar da humanidade se os seus mais ilustres sábios têm nos dado mostras de sandice desde a antiguidade até os nossos dias?
Aos dezesseis anos, o impulso para dedicar-me de corpo e alma a este life style era mais forte que eu. O Yôga fervilhava em minhas veias. Quando lia nos livros algum conceito, aquilo me era tão familiar que parecia não estar sendo assimilado pela primeira vez e sim apenas recordado. Quando aprendia algum termo sânscrito, ele me era perfeitamente íntimo, a pronúncia fluía como se fosse a minha própria língua e bastava lê-lo ou escutá-lo uma única vez para não o esquecer nunca mais. Quando executava alguma nova técnica, sentia uma facilidade tão grande que era como se sempre a tivesse praticado. Isso, para não mencionar os tantos procedimentos, conceitos e termos que eu já havia intuído antes de ler o primeiro livro desta filosofia indiana e que foram confirmados nos estudos posteriores.
Assim, superei todos os obstáculos e prossegui dedicando-me à minha grande vocação. Na época, eu era estudante, mas dava um jeito e só estudava os livros deste maravilhoso sistema durante o período escolar. Fora dele, lia mais ainda e praticava o tempo todo.