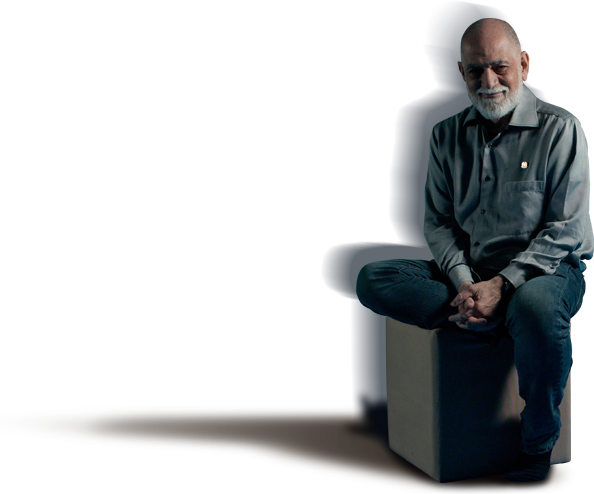“Se não está escrito em inglês, não é ciência.”
Por trás da arrogância desta frase, existe uma realidade global. Por isso, os 200 gurus indianos não tomaram conhecimento do Tratado de Yôga e penaram para compilar apenas 600 ásanas, quando poderiam ter contado com um incremento considerável ao seu trabalho, se voltassem suas lunetas para outras culturas.
O reconhecimento do Império Romano
Durante o Império Romano ocorria um fenomeno de aculturação que persiste até os nossos dias. Se uma colônia, por exemplo, a Gália, quisesse comprar cultura, não cogitaria em adquiri-la da Lusitânia ou da Helvétia. Não a importaria do seu vizinho mais próximo, um produto às vezes melhor, a um custo mais razoável. Fazia questão de importar de Roma, o centro do império. Então, muitas vezes as colônias levavam seu produto para Roma, traduziam-no em latim e a partir de então as demais colônias o aceitavam! Quantas conquistas científicas e tecnológicas foram perdidas apenas por não estar escritas em latim! Conhecemos o Direito Romano, mas como era o Direito Etrusco? Conhecemos a Medicina Romana que atendia os legionários e os gladiadores, mas como era a Medicina Minóica?
Aqui no subcontinente brasileiro presenciei o mesmo fenômeno em diversas ocasiões. Quando eu ministrava um curso em Porto Alegre, minhas turmas chegavam a 160 alunos vindos de Caxias do Sul, Cruz Alta, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo, Canela, Livramento, Uruguaiana e muitas outras cidades do exuberante interior gaúcho. Todos aceitavam de bom grado ir fazer um curso na capital. Mas quando o mesmo professor dava o mesmo curso em qualquer uma dessas cidades, o quorum era bem mais modesto, pois incrivelmente os interessados das cidades vizinhas não aceitavam fazer um curso em uma cidade de interior. Viajavam muito mais para fazer o curso em Porto Alegre, mas não se encaixava no seu paradigma viajar para participar do evento em uma cidade mais próxima.
Isso nos faz pensar. Praticamente tudo o que no Ocidente conhecemos e incorporamos no nosso passado, está restrito à cultura greco-romana. O direito que utilizamos é o Direito Romano, a língua morta de referência é o latim e “o mundo todo” a que nos referimos quando dizemos que Napoleão conquistou o mundo, é o mundo romano. Até a cultura grega, chegou a nós através dos romanos, que colonizaram e anexaram a Grécia ao seu Império. O Cristianismo chegou a nós através do Império Romano que estava lá em Jerusalém quando tudo aconteceu e, progressivamente, absorveu suas propostas. Tudo o que era incorporado ou aceito pelo Império Romano passava a “existir” e teria direito a ser perenizado. O que ficasse restrito a outras culturas estava destinado à desconhecença por parte do restante da civilização e seria condenado ao ostracismo pela História. Quantas descobertas cruciais para a Humanidade ocorridas entre os babilônicos, sumérios, drávidas, etruscos, hititas estão simplesmente perdidas, apenas porque não foram escritas em latim!
Atualmente, restringimo-nos aos registros em inglês. O que conhecemos do Egito ou da Índia, é porque foi escrito ou traduzido originalmente para o inglês. Só conhecemos o Kama Sútra porque o inglês Richard Burton o traduziu para a sua língua. Só conhecemos os Tantras porque o magistrado britânico Sir John Woodroffe os traduziu para o inglês. A Bhagavad Gítá, traduzida em 1784 por Charles Wilkins, é um dos muitos textos que vieram a se tornar mais populares na própria Índia depois que foram passados para o idioma britânico. Assim ocorreu com todas as demais escrituras hindus vertidas para o inglês: os Vêdas, as Upanishads, o Yôga Sútra, etc.
No início do século XX, havia um Mestre chamado Ramana Maharishi, que vivia em Arunachala, Tiruvanamalai, a uns 200 quilômetros ao Sul de Madrás. Nunca ninguém ouvira falar dele, embora fosse um grande sábio. E teria passado pela terra em brancas nuvens, sem que jamais a história registrasse sua existência ou o valor do seu ensinamento, se um anglo-saxão, Paul Brunton, não tivesse, um dia, visitado seu ashram e escrito sobre ele.
Esse é o caso do curare, que os índios brasileiros durante milênios usavam para pescar e que na segunda metade do século XX foi descoberto pela literatura em inglês, passando a ser adotado no mundo todo como anestésico nas grandes cirurgias.
Esse também é o caso dos bacteriófagos que os soviéticos vinham utilizando há quase um século no lugar dos antibióticos, com muito mais eficiência e menos inconvenientes, mas ninguém tomava conhecimento pelo fato de a literatura não estar escrita em inglês (“se não está escrito em inglês, não é ciência.”)!
Tivemos um filósofo brasileiro, falecido na década de 80, que era um verdadeiro gênio. Seu nome, Huberto Rohden. Quando jovem ele esteve na Alemanha e, na época, escreveu um livro de filosofia em alemão impecável. Enviou a obra a um editor que a aceitou incontinenti. Mandou chamar o autor para firmar contrato de edição. No entanto, quando Rohden abriu a boca o editor percebeu tratar-se de brasileiro e voltou atrás, recusando-se a editar o livro. “De brasileiros nós não compramos cultura. Compramos só café”, disse o preconceituoso editor.
Por todos estes fatos, devemos valorizar o trabalho que a Universidade de Yôga está realizando pelo mundo afora. A Uni-Yôga é a única instituição cultural brasileira (agora também argentina e portuguesa) que exporta know-how cultural e profissional para o resto do planeta. Ainda encontramos entraves linguísticos e outros, mas estamos derrubando fragorosamente todas as barreiras e seguimos crescendo para mostrar ao mundo a linda filosofia que temos para compartilhar.
Leia mais »