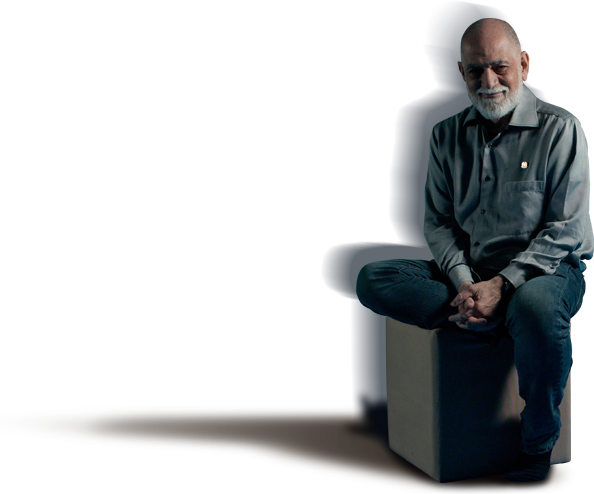Se pela manhã o divertimento era plantar e regar, à tarde íamos à fonte buscar água fresca que levávamos para casa em pesados tonéis de madeira os quais, felizmente, eram transportados rolando sobre suas laterais que funcionavam como rodas e eram puxados por meio de uma alça entalhada de cada lado. Como toda criança, eu cobria minha mãe de perguntas e queria saber por que não utilizávamos as búfalas para a tração do tonel. Minha mãe explicava que não era tão grande nem tão pesado quanto me parecia a mim que era pequeno, e que os animais tinham outras funções mais importantes.
Chegando em casa, a água era transferida para a cisterna, apoiando-se o tonel numa reentrância escavada no arenito especialmente para esse fim, de forma a encaixar a abertura numa posição baixa, capaz de deixar escoar quase toda a água quando retirávamos a tampa de resina. Depois, era só dar mais um sacolejão com o tonel já bem mais leve, e o restante do líquido escorria para fora.
Algo que sempre me impressionou era a engenharia do fornecimento de água da nossa casa. Na cidade, dispunham de canais que conduziam pequenas quantidades de água, suficientes, porém, para as necessidades de todos. Nós vivíamos fora da cidade e precisávamos nos prevenir, pois contávamos só conosco. A cisterna foi escavada no arenito, mais macio do que a rocha, mas suficientemente resistente para suster o precioso elemento. As paredes internas eram revestidas de uma seiva retirada das árvores próximas a qual, depois de seca, ficava impermeável e aromatizava a água. O reservatório me parecia enorme e precisávamos de muitas viagens diárias para enchê-lo e mantê-lo assim durante todo o período em que a nascente fornecia água. Depois vinha a estiagem e passávamos meses sem chuva, utilizando somente o que tivéssemos conseguido estocar. Cada casa possuía a sua cisterna, umas maiores, outras menores. Algumas eram beneficiadas pela topografia do terreno, como era o caso da nossa.
O caminho conduzia até a abertura superior. Pelo outro lado, havia uma abertura em baixo com um engenhoso sistema de regulagem que só permitia a saída do suficiente para manter cheia uma cuba de pedra onde íamos buscar as quantidades necessárias para lavar-nos ou para beber e cozinhar.
Algumas vezes ocorriam vazamentos e faltava suprimento de água para alguma das famílias da aldeia. Então os vizinhos se cotizavam e cada um dividia sua água na medida do possível. Sempre deu para todos.
Como as funções eram alternadas, quando não precisávamos buscar água, íamos trazer as cabras e os búfalos para guardá-los perto da choupana.
Leia mais »