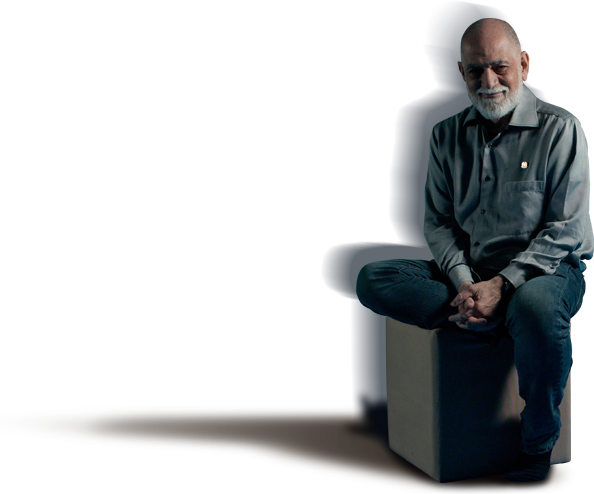Lembro-me do meu pai. Era um homem simples, mas, como toda a gente da aldeia, vivia feliz. Devia ter uns trinta anos de idade e já estava bem consumido pelo trabalho na lavoura, pelo sol inclemente e por alguns acidentes. Havia perdido um dedo cortando lenha. Por sorte, a ferramenta era de cobre e partiu-se antes de decepar os outros dedos. Mancava um pouco por ter sido mordido no pé por um bicho peçonhento que ele não chegou a ver. Só sentiu a dor da picada e ficou dias de cama com febre. Quando se recuperou, seu pé estava endurecido como uma pedra e havia perdido o tato. Contudo, os dentes fortes constituíam seu orgulho. Gostava de sorrir por qualquer razão, pois era pretexto para mostrar que não havia perdido nenhum dente, coisa rara naquela idade avançada. Os únicos que passavam muito dessa idade eram os sábios que viviam e se alimentavam de outra forma e jamais executavam trabalhos braçais sob o sol e a chuva, nem estavam sujeitos aos ataques dos animais selvagens. Certa vez, conheci um sábio ancião com suas longas barbas brancas, símbolo da sabedoria que lhe permitira atingir tão dilatada longevidade. Acho que tinha o dobro da idade do meu pai.
Nunca vi meu pai zangado com coisa alguma. A única vez em que ele começou a ficar mais sério por causa de uma disputa com um vizinho sobre a propriedade de umas frutas, minha mãe colocou a cabeça dele em seus seios, acariciou seus longos cabelos muito negros e disse-lhe:
– A árvore está plantada fora do nosso terreno e fora do dele. Você plantou a árvore quando nosso primeiro filho nasceu. Mas quando ele faleceu, você não cuidou mais dela. O vizinho cuidou da árvore a partir de então e acha que tem direito sobre ela. Nós temos sido muito amigos desde que nos conhecemos, e ele nos ajudou e nós o ajudamos muitas vezes. As frutas que caem da árvore não podem ser motivo de conflito. Percebi que ele aprecia nossas flores. Amanhã vou me oferecer para plantar umas mudas no terreno dele e vocês fazem as pazes.
Meu pai começou a sorrir e beijar o colo da minha mãe. Logo estavam se amando como duas crianças. É que no lugar onde passei minha infância, os adultos não escondiam dos filhos os seus atos de amor. Por outro lado, meninos e meninas brincavam livremente e faziam suas descobertas sob o olhar benevolente e carinhoso dos mais velhos. Nossa civilização era alicerçada na liberdade e achávamos que todas as experiências prazerosas deveriam ser saudáveis, e nós as cultivávamos. As dolorosas deveriam ser prejudiciais e nós as evitávamos. Nós e todos os animais à nossa volta tínhamos a mesma opinião.