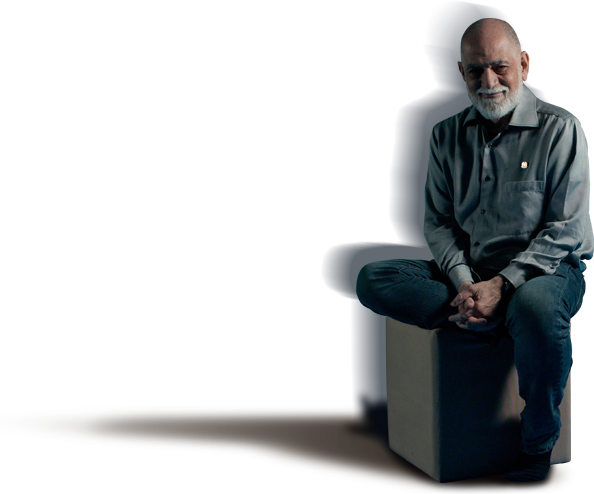Um dia resolvi procurar os saddhus, sábios eremitas que vivem em cavernas, nas montanhas geladas dos Himálayas. Para ter mais certeza de encontrá-los e também por medida de segurança, contratei um guia, Pratap Sing. Era minha primeira viagem àquela região, eu era novinho e ainda não conhecia nada de Índia.
Acordamos cedo e começamos a subir a montanha ao nascer do sol. Uma densa neblina cobria a floresta, mas o guia dava passos seguros morro acima.
– Sir, vou levá-lo para conhecer um grande yôgi, sir!
– Como é o nome dele? – Perguntei. O guia me disse o nome de um conhecido guru, muito famoso no Ocidente. Então, retruquei-lhe que não estava interessado em conhecê-lo e se esse tipo de mestre era o que ele considerava um grande yôgi, podíamos voltar dali mesmo, pois iria dispensar os seus serviços. Ele sorriu e abriu o jogo:
– Sir, o senhor entende mesmo de Yôga. Vamos, então, para o outro lado, sir.
– Mas, se você sabia que esse não é um verdadeiro yôgi, como ia me levar lá?
– Sir, eu ganho uma gratificação para cada turista que encaminhar. Mas vou levá-lo para conhecer saddhus de verdade se me pagar dobrado, sir.
Bem, o fato é que subimos a montanha durante mais de quatro horas. Durante a caminhada surgiram vários saddhus, mas dessa vez o guia cumpriu o trato e seguiu em frente sem se deter em nenhum deles. Eu já estava exausto quando fui surpreendido por uma figura que parecia saída dos contos de fadas. Era um saddhu, realmente, daqueles que não se encontram mais nas aldeias, nem em ocasiões especiais. Uma imagem impressionante. Completamente nu, pele curtida pelo frio e pelo sol, quase negro, todo coberto de cinzas, o que lhe conferia um tom violáceo, semelhante ao da representação da cor da pele de Shiva nas pinturas. Cabelos e barbas completamente brancos e muito longos. Um olhar forte e penetrante, olhos injetados de poder. Recordou-me Bhávajánanda.
Não tive tempo de falar nem fazer nada e ele já estava me dando ordens, passando instruções em língua hindi, num tom marcial, com o guia traduzindo apressadamente. Ensinou-me novos mantras, mudrás, ásanas e meditação. Se eu não acertasse em executar o exercício exatamente como ele queria, o Mestre rugia uma admoestação intraduzível.
Por vezes, o guia tentava falar com o saddhu, mas ele o ignorava. Não respondia e ainda dava-lhe as costas. Falava só comigo, porém, eu não entendia o idioma hindi e precisava do cicerone para traduzir. Apesar desse inconveniente, foi a ocasião em que aprendi o maior volume e a melhor qualidade de técnicas em tão pouco tempo. Foram umas poucas horas de aprendizado, umas sete ou oito, e o guia já estava inquieto, insistindo para irmos embora imediatamente. Depois de uma certa insistência, concordei, muito a contragosto. Levara a vida inteira para encontrar um saddhu de verdade e, no melhor da festa, precisava largar tudo e ir embora! Cheguei a aventar a hipótese de passar a noite lá, mas o guia ficou histérico com a possibilidade. Mais tarde descobri a razão.
Então, agradeci ao saddhu e cumprimentei-o da forma tradicional, fazendo o pronam mudrá, curvando-me até o chão e tocando-lhe os pés. Deixei-lhe minha sacola como pújá. Dentro havia uma manta, um livro meu (Prontuário de SwáSthya Yôga) e alguma comida.
Começamos a descer a montanha e logo compreendi o motivo da preocupação. Nas outras quatro horas que durou a descida, danou a esfriar e, no final da caminhada, começou a escurecer. Segundo o guia, se escurecesse conosco na floresta, nem mesmo ele conseguiria encontrar o caminho de volta e morreríamos devido ao frio. Numa viagem posterior à Índia, descobri que aquela região inóspita ainda tinha elefantes selvagens os quais atacavam quem se aventurasse por seus domínios, além de tigres e serpentes para viajante nenhum botar defeito. Como é que o saddhu conseguia sobreviver lá? E pela aparência já devia ter muitos anos de idade vividos, quem sabe, ali mesmo.
Nessa noite fez tanto frio que tive de acordar algumas vezes no meio da madrugada para praticar bhastriká, um respiratório que eleva a temperatura do corpo, e, só assim, consegui dormir de novo. Aí pensei: estou cá em baixo onde a temperatura é mais amena, estou dentro de um alojamento fechado, numa cama, com roupas de lã e cobertores. Como é que sobrevive aquele velho saddhu lá em cima, onde é muito mais gelado, sem roupas, dormindo no chão, dentro de uma caverna de pedra úmida, que não tem nem portas para evitar o vento gélido?
No dia seguinte partimos mais cedo, antes de amanhecer, para dispormos de mais tempo com o Mestre. Pensei que fosse encontrar um picolé de saddhu, mas qual nada. Logo que chegamos, ele, super energético, começou novamente a dar ordens e instruções. Achei interessante o fato de que ele havia me ensinado certos ásanas no dia anterior e insistido para que os executasse de uma determinada maneira. Neste segundo dia, ensinara ásanas (pronuncie “ássanas”) novos e revisara os do dia anterior, só que queria que eu os fizesse de outra forma. E no terceiro dia ia querer de uma outra maneira. Talvez fosse para me tirar a imagem estereotipada de que só há uma forma estanque de executar e mostrar-me que diversas variações podem estar igualmente corretas. Ou, possivelmente, seria sua intenção produzir um resultado evolutivo, diferente a cada dia.
Mandou-me sentar à sua frente e repetir os mantras que fazia. Quando não vocalizava exatamente igual, ele rosnava alguma coisa em hindi, cuja tradução era perfeitamente dispensável. Depois fez o mesmo com a meditação. Assim que me dispersava, ele grunhia, como se estivesse vendo o que se passava dentro da minha cabeça.
Novamente o guia começou a ficar nervoso, só que desta vez atendi logo. Deixei um pújá, despedi-me da forma convencional e descemos o mais rápido que conseguimos.
O terceiro dia foi o melhor de todos. Dava para sentir a energia no ar. Percebi que estava entrosado. O Mestre não rugiu nem rosnou nenhuma vez. Em dado instante, enquanto eu executava um ásana, ele me passou o kripá, um toque que transmite a força e confere ao iniciado o poder de, por sua vez, transmiti-la aos seus discípulos.
Após o kripá, o próprio saddhu considerou encerrada a aula e, pelo visto, o curso. Mandou-nos embora como quem já tinha feito o que devia e entrou na caverna.
Na manhã seguinte, subimos outra vez, só que não encontramos mais o Mestre. Não estava na caverna nem nas imediações. Esperamos até tarde. Ele não voltou. Assim, compreendemos que havia considerado completa a iniciação que me conferiu nos três dias. Descemos e não subimos mais.
Leia mais »